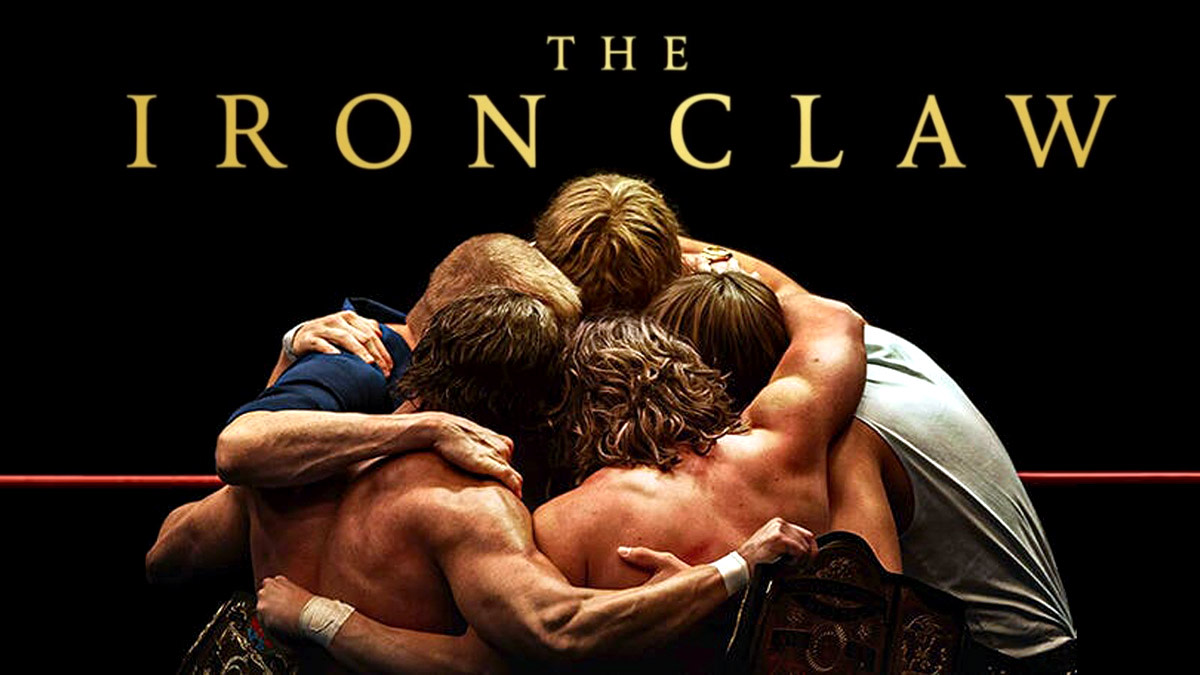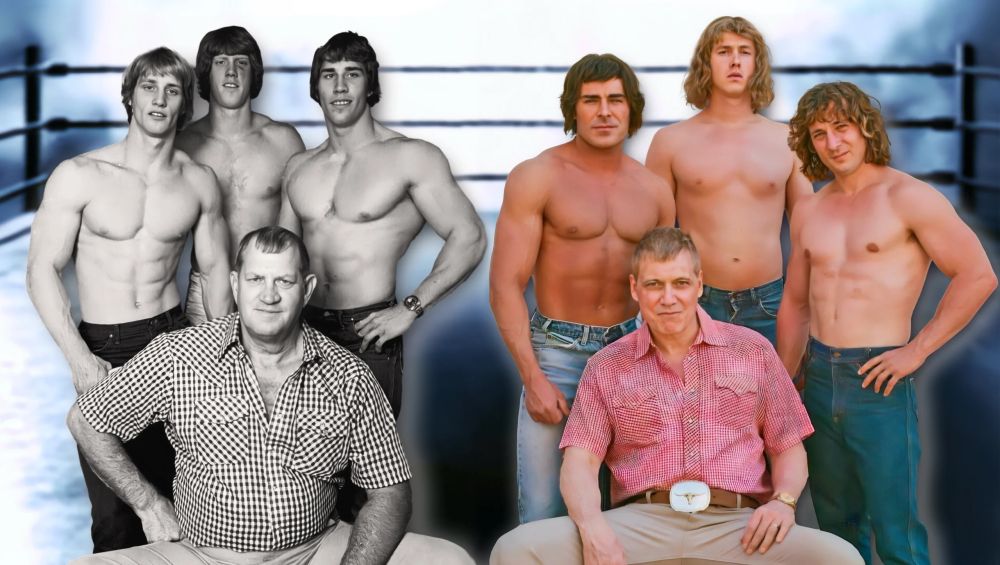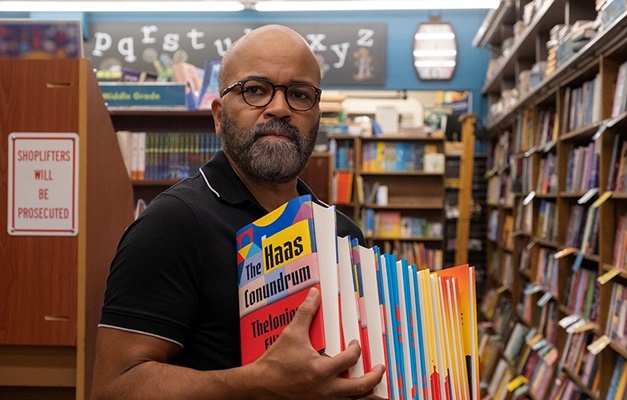Jack Ryan (2018-2023)

Hoje elogiado como diretor e roteirista, e não “só” como comediante (algo muito difícil de fazer, mas comumente desmerecido), John Krasinski (mais lembrado por The Office) brilhou como Jack Ryan, analista financeiro da CIA forçado a se tornar agente de campo quando um suspeito que ele vinha monitorando começa a movimentar grandes quantias de dinheiro. O personagem, criado pelo falecido escritor Tom Clancy, já chegou aos cinemas na pele de quatro atores diferentes e em cinco produções, indo e voltando no tempo entre elas. O número de livros já chega a 40, contando os 17 escritos por Clancy e os dos vários escritores que deram continuidade à saga
Na série da Amazon Prime Video, que chegou ao fim em sua quarta temporada, no ano passado, Ryan é um analista da CIA em início de carreira, modernizando a história do personagem. Isso faz com que a cronologia dos filmes não seja exatamente obedecida, como se fosse um Jack Ryan de outro universo (já que o Multiverso é uma moda atual). Assim, esse Ryan atual usa celular e todos os recursos que nossa tecnologia permite.

Os episódios são bem trabalhados e carregados de tensão, com um protagonista crível, mas não só ele: os coadjuvantes e até o vilão têm suas vidas exploradas. E os norte-americanos não são os bonzinhos do mundo, como costumam aparecer. Você pode não concordar com o vilão (e nem deve), mas dá para entender a forma dele de pensar. Os atores escolhidos trazem bastante veracidade aos seus personagens e às situações vividas.
Aproveitando que a série chegou ao fim, e são apenas 30 episódios, fica a recomendação para uma maratona no Amazon Prime Video. E, pegando esse gancho, trago um rápido resumo de cada produção estrelada por Jack Ryan no cinema. Todos entregam o que se espera: ação, tensão, tiroteios e traições, sendo que apenas o último fica abaixo da média.
 A Caçada ao Outubro Vermelho (The Hunt for Red October, 1990)
A Caçada ao Outubro Vermelho (The Hunt for Red October, 1990)
Dirigido pelo mestre da ação John McTiernan logo após Duro de Matar, o longa traz Alec Baldwin como Jack Ryan, um jovem analista que conhece as características do Outubro Vermelho, um submarino soviético que ruma aos Estados Unidos, e se encontrou brevemente com o capitão dele há anos. Ryan precisa praticamente adivinhar as intenções do capitão e evitar uma guerra. Quem rouba a cena como o desertor lituano é Sean Connery, e o elenco ainda traz nomes como James Earl Jones, Scott Glenn e Sam Neill.
 Jogos Patrióticos (Patriot Games, 1992)
Jogos Patrióticos (Patriot Games, 1992)
Outro grande nome do gênero, Phillip Noyce comanda o longa que traz Jack Ryan em férias na Inglaterra com a família. No lugar errado e na hora errada, ele evita um atentado contra um político membro da família real e passa a ser perseguido pelos terroristas, liderados por Sean Bean. Harrison Ford vive um Ryan mais velho, que deixou as aventuras de lado e se tornou professor de História na Academia Naval, com mulher e filha. James Earl Jones segue como o almirante mentor de Ryan, mostrando ligação com o longa anterior.
 Perigo Real e Imediato (Clear and Present Danger, 1994)
Perigo Real e Imediato (Clear and Present Danger, 1994)
Noyce e Ford voltam ao Ryanverso com Jack Ryan promovido a Diretor de Inteligência da CIA. Um outro grupo da agência, com a anuência do presidente, promove uma ação contra cartéis da droga e Ryan é colocado como negociador entre as partes, se tornando alvo dos traficantes. Ryan conhece aqui John Clark (vivido por Willem Dafoe), outro personagem importante nas histórias de Clancy.
 A Soma de Todos os Medos (The Sum of All Fears, 2002)
A Soma de Todos os Medos (The Sum of All Fears, 2002)
Noyce e Ford não conseguiram chegar a um acordo quanto ao roteiro e abandonaram o projeto. Numa tentativa de começar a franquia novamente, Ben Affleck vive um Ryan mais novo, um analista da CIA que precisa evitar uma guerra nuclear que pode ser iniciada por um neonazista. Mesmo não sendo uma maravilha, o filme faturou bem nas bilheterias, mas os produtores tiveram receio de seguir com Affleck devido ao fracasso retumbante de Gigli – Contato de Risco e não deram continuidade à franquia.
 Operação Sombra: Jack Ryan (Jack Ryan: Shadow Recruit, 2014)
Operação Sombra: Jack Ryan (Jack Ryan: Shadow Recruit, 2014)
Menos envolvente que todos os demais, o longa traz Chris Pine no papel principal, seguindo o sucesso da trilogia Star Trek, e não fez bilheteria suficiente para ter uma continuação. Primeiro filme de Jack Ryan que não é baseado num livro de Tom Clancy, Operação Sombra é mais um reboot, mostrando o personagem mais jovem. Sem se preocupar em ser coerente com os anteriores, o filme tem Kenneth Branagh como diretor e como o vilão russo que pretende colapsar o mercado financeiro americano. O elenco ainda conta com Kevin Costner e Keira Knightley. (Clique aqui para ler a crítica)
 Bônus: Sem Remorso (Without Remorse, 2021)
Bônus: Sem Remorso (Without Remorse, 2021)
Frequentemente aparecendo como coadjuvante de Jack Ryan, o agente John Clark tem suas próprias histórias e Sem Remorso traz uma delas. Michael B. Jordan vive o sujeito, que busca vingança contra os assassinos da esposa dele e sai dando tiros pra todo lado. Se não é excelente, ao menos não é ruim também, ficando ligeiramente acima da média. (Clique aqui para ler a crítica)

















 Expoente da literatura de terror nacional, Raphael Montes já vendeu estimados 500 mil livros e chamou bastante atenção quando a Netflix anunciou que um deles,
Expoente da literatura de terror nacional, Raphael Montes já vendeu estimados 500 mil livros e chamou bastante atenção quando a Netflix anunciou que um deles,