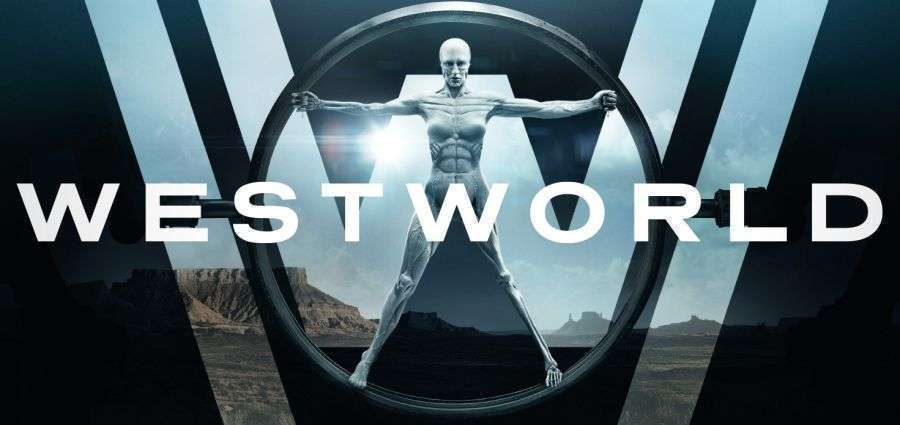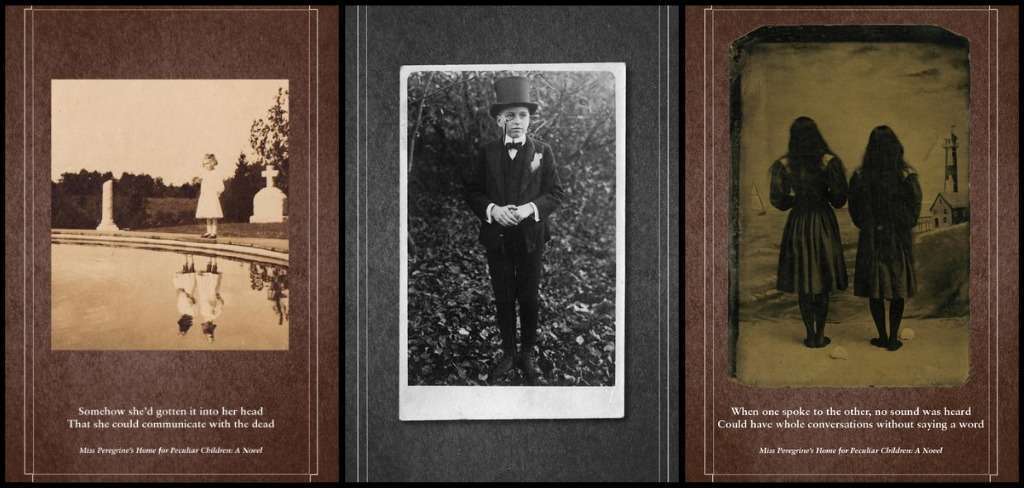por Marcelo Seabra
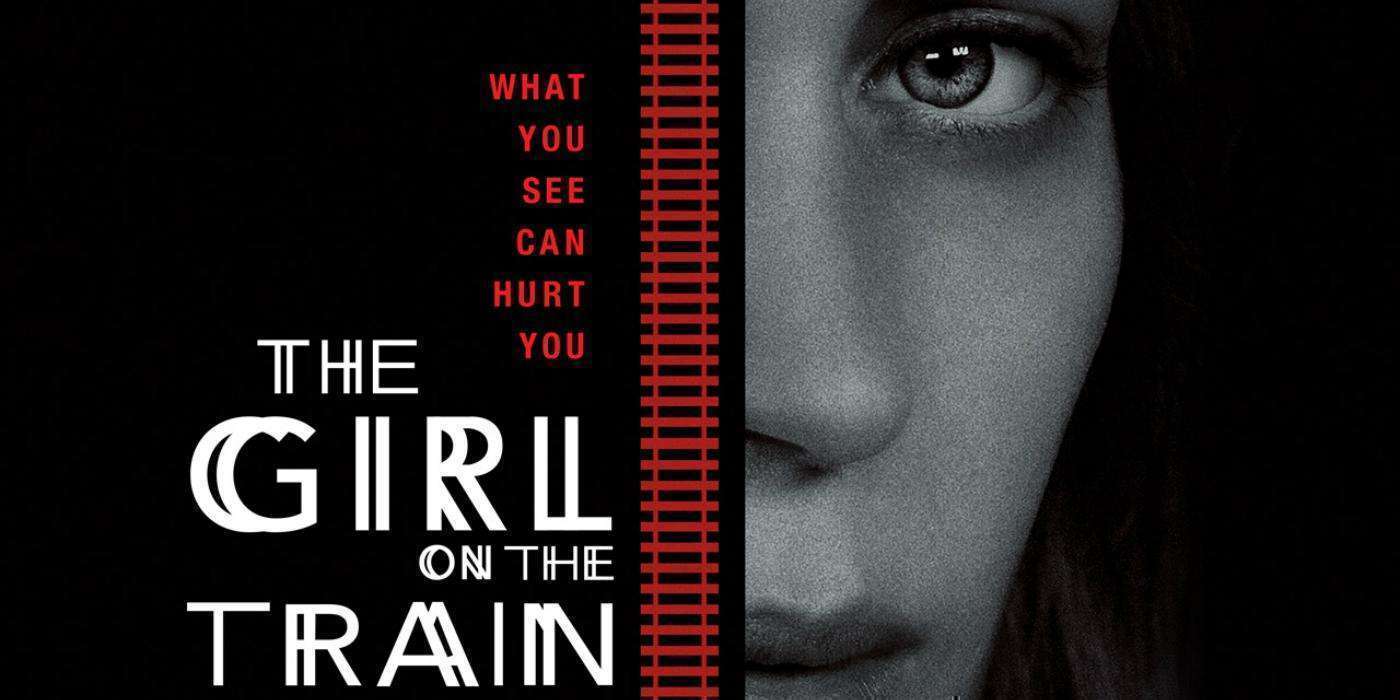
Se tem um tipo de filme irritante de se assistir, é aquele que tenta te enganar. Não de uma forma inteligente, claro. Quando é um Sexto Sentido (The Sixth Sense, 19999) da vida, ótimo, você quer até assistir de novo para tirar a limpo as situações. Mas quando é um A Garota no Trem (The Girl on the Train, 2016), você só quer esquecer a experiência e tomar uma dose de vodka. Até porque a bebida parece ser a vilã do filme.
Baseado no livro de Paula Hawkins, o roteiro de Erin Cressida Wilson (do fraco Homens, Mulheres e Filhos, 2014) nos apresenta a uma mulher que é a notória bêbada da região e que, devido ao álcool, tem apagões e precisa que os outros a lembrem do que fez. Diariamente. E é impressionante o que Emily Blunt (de O Caçador e a Rainha de Gelo, 2016) consegue fazer com um papel tão antipático e pouco crível. A atriz demonstra realmente estar naquela situação, dando um pouco de dignidade para sua Rachel. Só passa pela cabeça o show que ela poderia dar com um texto melhor. E menos vodka.

A falta de sentido do roteiro continua no fato de Rachel conseguir ver bem, em detalhes, o que acontece na vizinhança quando passa de trem. Não sabemos direito para onde ela vai ou o que faz, mas todos os dias ela pega o trem na cidade onde mora e ruma a Nova York. A melhor parte de seu dia parece ser a ida e a volta, quando olha ao redor e inventa histórias para as pessoas que vê. Quando uma dessas personagens some, ela se envolve, mesmo sem ter nada a ver com o peixe. Além de alcoólatra e vazia, ela é enxerida, e seus repetidos lapsos de memória não ajudam em nada.
Por causa dessa costura entre os fatos, o filme até consegue ser interessante em alguns momentos. Mas, quando mais situações são jogadas convenientemente, tudo parece desandar. No final, só queremos que termine e nem nos importamos que várias pontas fiquem soltas. Um roteiro cujo mistério depende da falta de memória da protagonista e da burrice de outros colegas não pode dar muito certo. Nas mãos de Tate Taylor, culpado por Histórias Cruzadas (The Help, 2011), é que não faria sentido mesmo. E há ainda outro agravante: as idas e vindas temporais. Parece que o simples fato de bagunçar a cronologia vai tornar as coisas mais interessantes. O resultado é confuso e mal conseguimos acompanhar esses saltos.
 Além de Blunt, o elenco tem outras duas atrizes que são propositalmente parecidas, e isso pode causar confusão. Rebecca Ferguson (de Missão Impossível: Nação Secreta, 2015 – ao lado) vive a atual esposa do ex-marido de Rachel, e ela ficou loira exatamente para que possamos confundi-la com Haley Bennett (de Sete Homens e Um Destino, 2016), a garota vista pela janela do trem. Temos ainda Allison Janney (de Mom), Laura Prepon (de Orange Is the New Black) e uma ponta de Lisa Kudrow (a Phoebe de Friends). No time masculino, o bom Justin Theroux (de The Leftovers) tenta se salvar com pouca coisa para trabalhar; Luke Evans (de Velozes e Furiosos 7, 2015) foi escalado por ter um abdômen malhado; e Edgar Ramírez (de Joy, 2015) é outro que não tem muito o que fazer.
Além de Blunt, o elenco tem outras duas atrizes que são propositalmente parecidas, e isso pode causar confusão. Rebecca Ferguson (de Missão Impossível: Nação Secreta, 2015 – ao lado) vive a atual esposa do ex-marido de Rachel, e ela ficou loira exatamente para que possamos confundi-la com Haley Bennett (de Sete Homens e Um Destino, 2016), a garota vista pela janela do trem. Temos ainda Allison Janney (de Mom), Laura Prepon (de Orange Is the New Black) e uma ponta de Lisa Kudrow (a Phoebe de Friends). No time masculino, o bom Justin Theroux (de The Leftovers) tenta se salvar com pouca coisa para trabalhar; Luke Evans (de Velozes e Furiosos 7, 2015) foi escalado por ter um abdômen malhado; e Edgar Ramírez (de Joy, 2015) é outro que não tem muito o que fazer.
Pela participação dos personagens, percebemos que as mulheres têm muito mais importância para a trama. Se fossem mulheres fortes e independentes, seria uma boa exceção num oceano de coitadinhas que vemos por aí no Cinema. Mas essas mulheres são exatamente isso: donzelas em perigo, fracas, que dependem de seus parceiros. A começar pela obsessão de Rachel por Tom (Theroux), que agora é o porto seguro de Anna (Ferguson). A trama falsamente intricada pode pegar parte do público. Mas não é mais do que outro desserviço de Tate Taylor para o feminismo e para a sétima arte.

Rachel não supera o divórcio

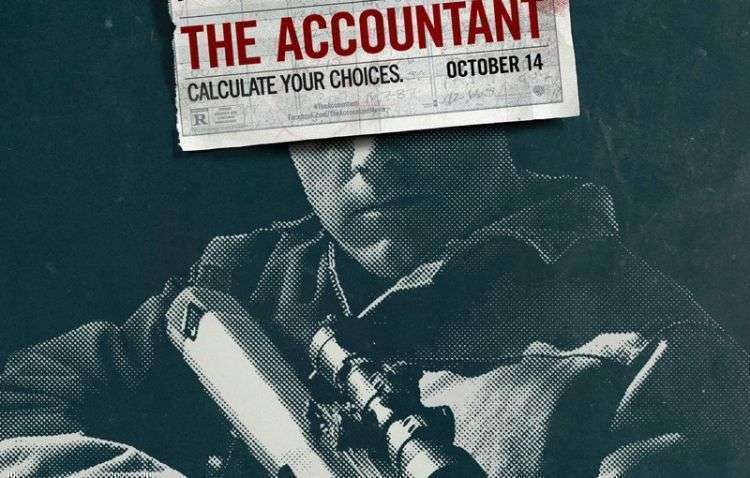






 Em cartaz nos cinemas, temos duas continuações nas quais falta originalidade, interesse e até sentido. Mas não faltam tiros, mortes e correria. A franquia Uma Noite de Crimes (The Purge) pode ter chegado à sua parte final com 12 Horas Para Sobreviver: O Ano da Eleição (The Purge: Election Year, 2016). E o carisma de Jason Statham garantiu uma sobrevida a um de seus longas mais interessantes,
Em cartaz nos cinemas, temos duas continuações nas quais falta originalidade, interesse e até sentido. Mas não faltam tiros, mortes e correria. A franquia Uma Noite de Crimes (The Purge) pode ter chegado à sua parte final com 12 Horas Para Sobreviver: O Ano da Eleição (The Purge: Election Year, 2016). E o carisma de Jason Statham garantiu uma sobrevida a um de seus longas mais interessantes,