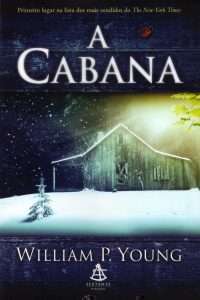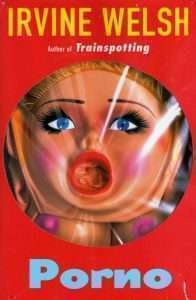por Marcelo Seabra
Depois daquele começo tímido em 2001, quem diria que a franquia Velozes e Furiosos tomaria esse vulto e chegaria ao seu oitavo episódio (no original, The Fate of the Furious, 2017)? De uma aventura nas ruas com cara de Caçadores de Emoção, os longas se tornaram produções caríssimas que reúnem diversos nomes famosos e têm tramas que fariam inveja a James Bond. Com o desafio de superar a morte de um de seus protagonistas, Paul Walker, a série segue quebrando todas as leis, até a da gravidade.
Falando em quebrar leis, a franquia tem uma máxima desde que Dom Toretto (Vin Diesel) e Brian O’Conner (Walker) se aliaram: a família é sempre o mais importante. Um tanto de gente entrou nessa festa e logo eles se tornaram uma grande família, para não chamar de gangue. Depois da necessária saída de Brian do grupo, agora é Dom quem vai se bandear para o outro lado. O que destrói a única máxima que regia esse universo. É uma ideia muito bacana que, ao ser colocada em prática, facilmente desanda e leva o filme com ela.
A nova história do bando de Dom começa quando ele e Letty (Michelle Rodriguez) estão em lua de mel em Cuba, com todos os estereótipos do país que se tem direito: belas paisagens, uma espécie de rap caribenho com um batidão tocando, bigodudos com cara de mal em conversas suspeitas e trocentas mulheres em trajes mínimos, fazendo a introdução parecer mais um clipe de funk. Parece que o 3D foi projetado para que bundas pulem na cara do espectador. Uma corrida é rapidamente arranjada, já que qualquer problema da humanidade pode ser resolvido assim, e entramos no clima da franquia.
 Na sequência, Dom conhece uma mulher misteriosa (vivida por Charlize Theron, de O Caçador e a Rainha do Gelo, 2016 – ao lado) que vai chantageá-lo para que a ajude. O detalhe é que o sujeito vai ter que se virar contra seus parceiros, o que ele faz sem titubear. A partir daí, temos a prova de que Dom é o membro do grupo com mais recursos, já que ele enfrenta todos sozinho, e a trama segue um caminho 100% previsível. O plano da tal Cipher é tão importante que nem ela parece saber exatamente qual é, se limitando a soltar algumas frases de efeito.
Na sequência, Dom conhece uma mulher misteriosa (vivida por Charlize Theron, de O Caçador e a Rainha do Gelo, 2016 – ao lado) que vai chantageá-lo para que a ajude. O detalhe é que o sujeito vai ter que se virar contra seus parceiros, o que ele faz sem titubear. A partir daí, temos a prova de que Dom é o membro do grupo com mais recursos, já que ele enfrenta todos sozinho, e a trama segue um caminho 100% previsível. O plano da tal Cipher é tão importante que nem ela parece saber exatamente qual é, se limitando a soltar algumas frases de efeito.
Sem Dom à vista, todos ganham espaço, mas quem rouba a cena são os fortões Dwayne “The Rock” Johnson e Jason Statham. E nem o carisma dos dois salva as cenas constrangedoras que somos obrigados a acompanhar, com diálogos mínimos e genéricos, como “Isso não está bom” ou algo assim. Cada personagem parece ter um núcleo, o que torna o todo uma série de filmes menores encaixados – o que facilitou a distância entre Johnson e Diesel, que teriam tido “desavenças filosóficas” durante as filmagens. A facilidade como vilões são aceitos nessa família também é assustadora. Tudo pode ser desculpado e os lados vão mudando. Não duvido que, num próximo filme, uma ameaça maior possa surgir e mais personagens mudem de lado.
As cenas de ação prendem tanto a atenção que dá vontade de olhar no celular se tem alguma novidade nas redes sociais. Acontece tanta destruição gratuita e orquestrada que parece que, a qualquer momento, o Superman vai aparecer. Da mesma forma que o plano de Cipher corre facilmente, por mais absurdo que seja, com hackers invadindo os sistemas de carros e tomando o controle, a família Toretto também vê suas jogadas dando certo. É como se tudo estivesse combinado desde o início, com o vencedor e o perdedor previamente definidos. Cada um cumpre seu papel, sendo o de Tyrese Gibson fazer todo tipo de piada sem graça. É  impressionante como raros momentos de humor funcionam, e nenhum deles com Gibson, que só irrita com falas de um menino mimado de 12 anos, como descrito por um colega. E o agente do alto escalão de Kurt Russell, que agora tem um aprendiz (o inexpressivo Scott Eastwood, de Esquadrão Suicida, 2016 – ao lado ), continua sendo o salvador da pátria, que aparece nas horas oportunas com as saídas necessárias.
impressionante como raros momentos de humor funcionam, e nenhum deles com Gibson, que só irrita com falas de um menino mimado de 12 anos, como descrito por um colega. E o agente do alto escalão de Kurt Russell, que agora tem um aprendiz (o inexpressivo Scott Eastwood, de Esquadrão Suicida, 2016 – ao lado ), continua sendo o salvador da pátria, que aparece nas horas oportunas com as saídas necessárias.
Com o mesmo Chris Morgan no roteiro, desde o terceiro filme, a novidade é o diretor, o irregular F. Gary Gray (que comandou Diesel em O Vingador, de 2003). Seus antecessores, Justin Lin e James Wan, demonstraram entender melhor a dinâmica de Velozes e Furiosos, abraçando os exageros sem perderem a essência da diversão. Gray tenta fazer um filme pé no chão, como seus trabalhos anteriores, e aí aparece um carro pulando um submarino. É como se Christopher Nolan fizesse um filme do Thor, sem saber exatamente onde ancorá-lo. O resultado seria bem burocrático, como é esse Velozes 8.