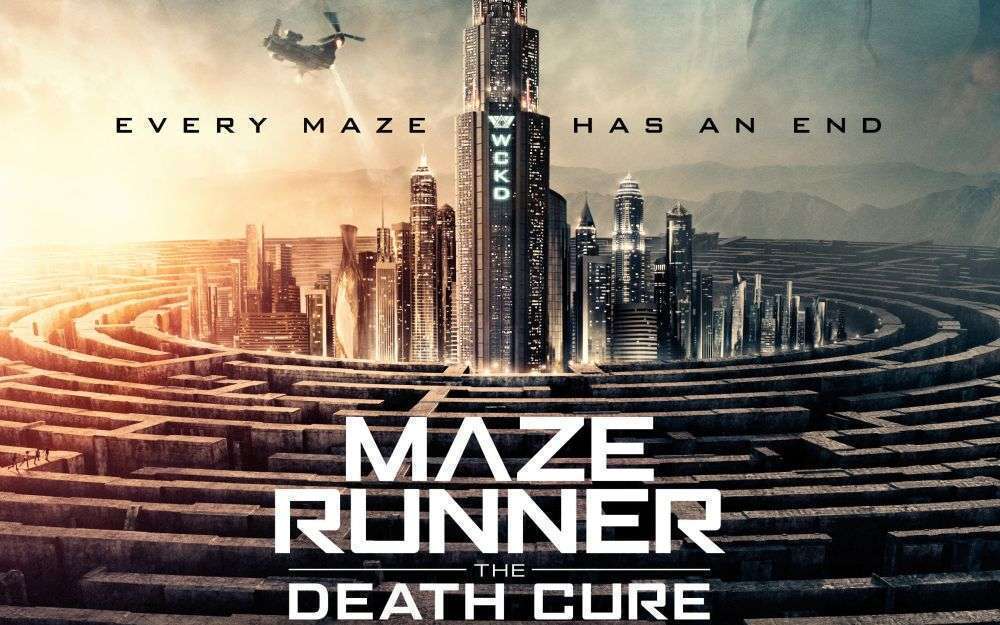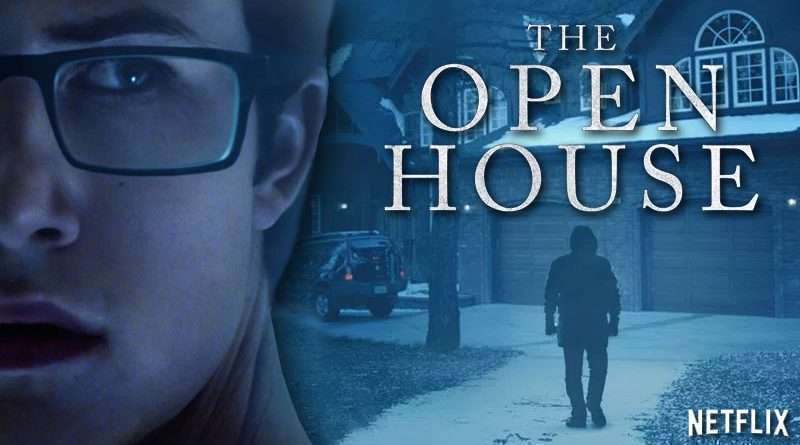por Marcelo Seabra

Em 2017, assisti a várias séries, a maioria até o final da temporada – algumas, até mais de uma. Abaixo, listo em ordem alfabética todas as que consegui lembrar, excluindo apenas as de duração mais longa a que já vinha acompanhando – como Modern Family.
Não é a intenção aqui dizer o que é bom ou ruim, apenas dar uma visão geral de algumas das atrações disponibilizadas no último ano (ou antes). Se você gostou de alguma e eu não, bom… Acontece.
Algumas das séries tiveram crítica publicada perto do lançamento, basta clicar no título para conferir. Para conversar sobre as demais, deixe um comentário.
O número em frente o título indica a temporada assistida. Se não houver, é porque vi apenas a primeira temporada (muitas, inclusive, só têm uma).

13 Reasons Why – uma bobagem adolescente que trata de um assunto sério de uma forma não necessariamente adequada.
American Vandal – um falso documentário bem interessante que nos apresenta a um personagem odiosamente carismático.
Aquarius – outro trabalho de David “Mulder” Duchovny, nos leva ao final da década de 60, em meio à “família Manson”. Funciona como ficção, cria muito em torno dos fatos.
Arrested Development (1-2) – a engraçada saga da família Bluth, com um elenco fantástico e tiradas melhores ainda.

Atlanta – o premiado Donald Glover mostra o caminho que um rapper simples, sem padrinhos importantes, deve traçar para chegar à fama. Interessante e realista.
Atypical – consegue ser engraçada sem fazer graça com seu protagonista, um adolescente no espectro do autismo que passa pelos mesmos dilemas que todos nós, mas de forma bem atípica.
Big Littles Lies – segredos e hipocrisia numa cidadezinha de ricos. Foi plataforma para grandes atuações femininas e tem recebido merecidos prêmios.
Big Mouth – animação que escancara alguns traumas adolescentes de forma bem engraçada.
Castlevania – a curta adaptação do cultuado videogame alterna bons e maus momentos, servindo de introdução para uma provável próxima boa temporada.

Dark – queridinha do momento, vai jogando alguns fatos para depois de alguns episódios começar a clarear as coisas. O resultado é bem satisfatório e muitos já estão ansiosos pela segunda temporada, já confirmada.
Dear White People – apesar das boas intenções, é bem chata, mas teve ótimas críticas e boa aceitação do público.
Death Note – tem muito estilo e uma legião de fãs, mas falta conteúdo. Ainda assim, é bem melhor que o filme da Netflix.
Defensores – mais curta que as séries solo, só engrena quando sai do Punho de Ferro e enfoca mais os outros, principalmente o Demolidor. E tem a grande Sigourney Weaver.
Designated Survivor – parte de uma premissa bem interessante, mas acaba virando mais do mesmo.

Desventuras em Série – um pouco irritante em suas idas e vindas e excesso de detalhes. As cores e aventuras podem atrair um público mais jovem, mas o tom sombrio pode afastá-los, deixando indefinido quem é o público-alvo.
Deuses Americanos – estilosa e confusa, promete esclarecer as coisas na próxima temporada, quando o pau deve quebrar entre os deuses.
Easy – histórias bobinhas sobre relações humanas que satisfazem quem procura algo leve, ou “fácil”.
Feud: Bette and Joan – duas atuações excepcionais numa história real muito interessante, e vários coadjuvantes tentando roubar a cena.
Five Came Back: documentário esclarecedor sobre a participação de diretores de Cinema na “cobertura” da Segunda Guerra, rico em fatos e depoimentos.
Friends From College – impossível de se chegar ao final, de tão chata e sem graça. Reúne um elenco aparentemente interessante, mas que não funciona junto.

Glow – bom elenco contando uma história inusitada, sobre mulheres lutadoras de telecatch, e equilibra bem drama e humor.
Justiceiro – uma das melhores séries do Universo Marvel da TV, traz a presença forte de Jon Bernthal numa trama interessante, apesar de alongada.
Legion – dentre as séries de super-heróis, a mais louca, que leva o público a entrar na cabeça de seu protagonista. Merece a conferida.
Life’s Too Short – engraçadinha, acompanha a vida do anão Warwick Davis, que interpreta a si mesmo num falso documentário. A piada recorrente é o fracasso da vida dele, que vive da fama de Star Wars e Willow.
Marte: imaginação bem pé no chão sobre como seria uma missão tripulada ao planeta vermelho. Conceitual e visualmente bem interessante.

Master of None: mais observações espirituosas que engraçadas. Aziz Ansari tem um olho aguçado para as coisas aparentemente normais do cotidiano, ressaltando as inconsistências e torcendo lugares-comuns.
Mindhunter: recriação fantástica do processo de entrevistas e catalogação dos depoimentos de psicopatas condenados, o que ajudaria a formar a divisão de psicologia criminal do FBI. Imperdível!
Narcos (3a): manteve-se forte mesmo sem a presença de Pablo Escobar, o que acabou permitindo desenvolver melhor outros personagens interessantes.
O Nevoeiro: tentativa safada de tirar mais lucro de um conto de Stephen King que já havia virado um ótimo filme. Fique com o filme e evite isso.
Ozark: muito bacana ver Jason Bateman fora de seu ambiente, numa trama tensa e bem amarrada. E tem a Laura Linney!

Peaky Blinders: a primeira temporada é extremamente bem construída, com personagens densos e situações críveis. O embate entre Cillian Murphy e Sam Neill é bonito de se acompanhar! Figurino, cenografia, fotografia e trilha sonora ímpares!
Punho de Ferro: o mais chato dos heróis da Marvel na TV, fica de mimimi por 13 episódios e custa a engrenar. Só para os fãs mais ardorosos da editora.
Santa Clarita Diet: uma virada bonitinha nas histórias de zumbis, com uma dona de casa se alimentando de carne humana. O casal principal é carismático, não passa muito disso.
Stranger Things (2): mais do mesmo, o que não significa ser ruim. A série continua usando a nostalgia do público e as muitas referências pop para construir sua história, que dessa vez vai um pouco mais longe.
Sun Records: série com ar de novelinha que conta uma história extremamente interessante, mas de forma engessada e quadrada. Vale pelo assunto, a gravadora que dá título à atração.

The Fall (3): muito arrastada, a terceira temporada poderia ter se encerrado com três ou quatro episódios. Final bem chato para uma série excelente.
The Good Place: bem humorada, a série conta com um elenco competente e alguns conceitos curiosos, que obedecem a lógica desse universo. Das comédias, é a mais interessante.
The Ranch: besteira sem graça alguma tentando levantar a carreira de Ashton Kutcher. Não deveria ter passado do primeiro episódio.
Twin Peaks: não teve jeito, apesar do mundo inteiro adorar a série. Dormi em todos os episódios e não vi o menor sentido. Eu sei, o errado sou eu. Não precisa me xingar nos comentários.
White Gold: humor cínico, com um protagonista detestável, e bem amarrada. Curta e interessante.
Wormwood: seria muito viajada, se não fosse verdade. Muito interessante, vai atrair principalmente os fãs de teorias de conspirações. Novamente: essa foi real.

Wormwood é uma das mais recentes atrações da Netflix