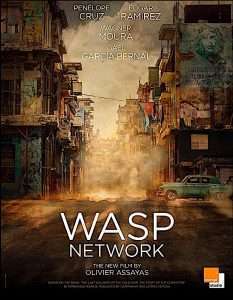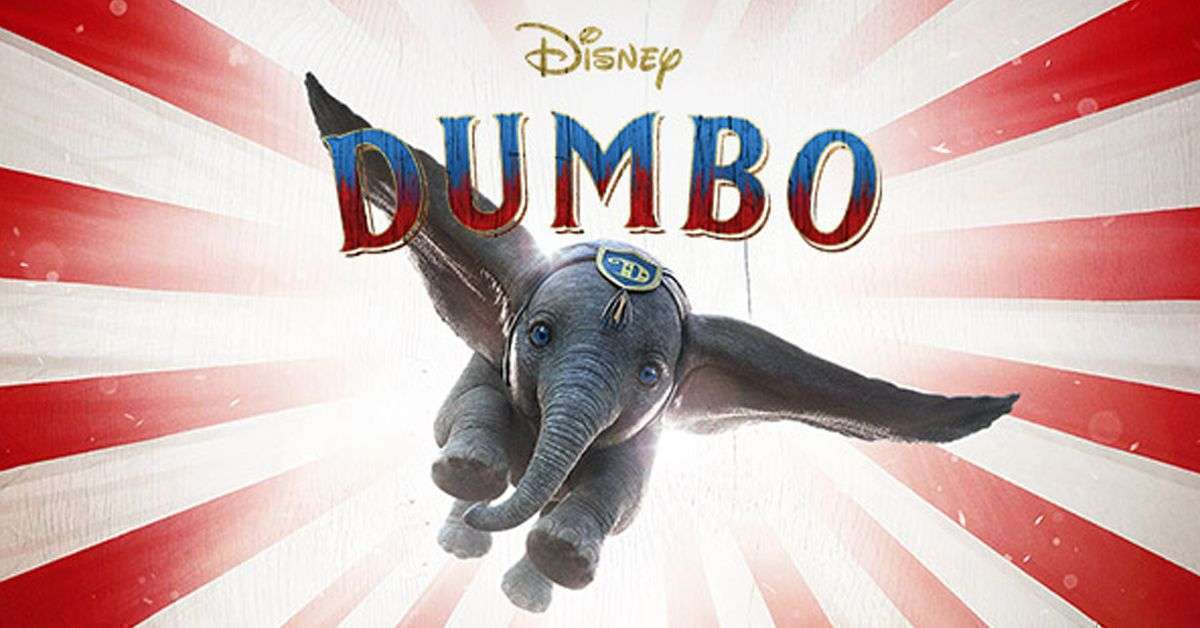por Marcelo Seabra
Ao longo de 11 anos, a Marvel criou e fortaleceu seu universo cinematográfico, jogando no mercado 21 filmes estrelados por seus super-heróis. Muitas vezes, com uns participando do filme dos outros, já que estão todos na mesma casa. Com Vingadores: Ultimato (Avengers: Endgame, 2019), chegou o momento de os irmãos Russo concluírem esse arco de histórias, trazendo as consequências do que vimos em Guerra Infinita (2018). O que só poderia resultar no filme mais grandioso do estúdio.
A discussão de qual seria o melhor filme desse universo vai sempre passar pelos personagens favoritos. Existe uma divisão entre os fãs, que escolhem ser do time do Homem de Ferro ou do Capitão América. Essa dualidade foi reforçada em Capitão América: Guerra Civil (2016), mas os dois acabaram chegando a um meio termo. É fácil fazer as pazes quando uma ameaça maior planeja acabar com 50% da vida existente.
Alguns pontos interessantes da trama de Ultimato não serão tratados para que não se estrague a experiência do espectador. O que se pode dizer, sem riscos, é que o tempo de cena de cada herói é bem equilibrado, valorizando até os menos importantes. Em três horas de duração, fica fácil tirar uns minutinhos para cada um. Afinal, temos atores caros ali, e o salário tem que se justificar. Mas, acima do cinismo ligado aos valores envolvidos, nota-se um grande respeito com o fã, já que o roteiro inteligente e intrincado segue uma lógica facilmente vista numa revista em quadrinhos. E a diversidade está mais presente que em qualquer outro.
Ao longo desses 11 anos, tivemos episódios que flertaram com diferentes gêneros e subgêneros, da espionagem ao “filme de roubo”, passando pela aventura pura e simples, aquelas que te fazem torcer, temer e até chorar. Ultimato tem momentos em várias dessas áreas, misturando muita coisa que vimos antes e as levando além, aumentando o grau de intensidade. Ele faz uma homenagem a tudo o que foi construído, inclusive com referências a outras obras, e tem a coragem de ir adiante, não apenas reciclando. Às vezes, os planos ficam um pouco confusos, mas nada que já não tenhamos visto nesse universo.
O elenco, assim como a equipe de produção, demonstra uma familiaridade muito grande com seus personagens, com os elementos tratados e entre si. Estamos vendo uma família, com seus altos e baixos, suas brigas e reconciliações. Tudo é muito familiar para o público também, que já sabe o que esperar. E é exatamente essa proximidade que nos faz temer pelo destino daqueles que seguimos há mais de uma década. Uma das grandes perguntas que todos se fazem, ainda antes da sessão, é: quem vai morrer?
A questão de quem fica e quem vai é, sim, um dos grandes segredos de Ultimato. Daí a preocupação de todos com os famigerados spoilers. Mas, mesmo tendo algum desses segredos estragados, o filme ainda é extremamente divertido, fazendo o nerd mais rabugento se sentir uma criança. E não estranhe se algumas lágrimas rolarem. Várias vezes. E a marcante trilha de Alan Silvestri segue trazendo arrepios à coluna.