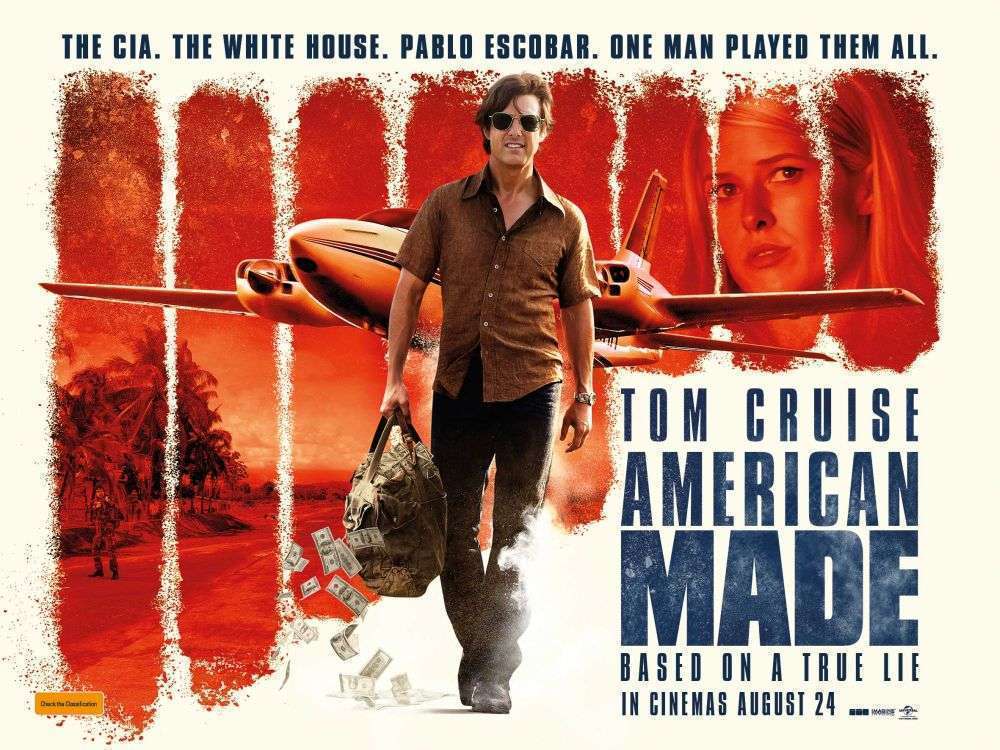por Marcelo Seabra
Um ritmo frenético marca o novo trabalho dos irmãos Safdie. Quem?, você pode estar se perguntando. O último filme da dupla, Amor, Drogas e Nova York (Heaven Knows What), é de 2014 e eles não têm nada muito famoso no Brasil. Mas, entre longas e curtas, Josh e Benny Safdie trazem uma longa bagagem. E nada melhor para ganhar notoriedade do que escalar Robert Pattinson. Bom Comportamento (Good Time, 2017) merece chamar mais atenção, tantas são suas qualidades.
Quem ainda vê Pattinson como o vampiro da novela Crepúsculo precisa rever seus conceitos urgentemente. O ator já mostrou ter amadurecido, o que é visível inclusive em suas escolhas. Com um currículo com Life (2015) e The Rover (2014), ele não precisa provar nada para ninguém. Aqui, ele vive Constantine Nikas, um criminoso de meia pataca que carrega em seus crimes o irmão deficiente mental (o próprio Benny Safdie). Quando uma fuga dá errado, Connie foge e Nick é preso.
Nessa pequena introdução, percebemos o quanto os irmãos são afeiçoados um pelo outro – mesmo que Connie use isso de forma negativa e moralmente errada. Ao mesmo tempo em que tenta levantar a autoestima do caçula, ele o usa como cúmplice. E isso funciona bem na lógica do roteiro, assinado por Josh Safdie e o parceiro habitual Ronald Bronstein. Os dois atores estão afiados. Enquanto Pattinson precisa segurar a câmera em si, sem medo de parecer feio ou antipático, Benny convence como autista (provavelmente, já que a condição não é explicada). E não faltam closes em ambos, no granulado dos 35 mm.
Assim como não sabemos exatamente o que se passa com Nick, não conhecemos o passado dos Nikas. Frequentemente, recebemos informações pontuais, mas nada fica muito claro. É uma decisão acertada do roteiro, ou eles poderiam ser vistos como coitadinhos, vítimas da sociedade ou do capitalismo. Nada disso acontece, a última coisa que sentimos por Connie é pena. Mas ele não deixa de ter um carisma, algo que faz com que torçamos por ele. Ou, ao menos, fiquemos curiosos sobre seu destino. A personagem de Jennifer Jason Leigh (de Os Oito Odiados, 2016), infantil e um tanto desequilibrada, mostra o tipo de gente com quem Connie tende a se misturar.
Outro ponto interessante é a participação de Barkhad Abdi, o amador que ganhou notoriedade graças a sua enorme competência em sua estreia, com Capitão Phillips (Captain Phillips, 2013). Visto recentemente em Blade Runner 2049, Abdi vive um segurança de um parque que mora em um local não muito luxuoso, mas tem um apartamento montado com muito bom gosto. Parece haver, aí, uma mensagem do tipo: trabalhe e corra atrás de suas coisas. Os Nikas sempre tentam dar jeitinhos e olha onde eles chegaram.
Durante a sessão de Bom Comportamento, algo que não pode ser ignorado é a trilha sonora. Bem adequada, ela casa bem com o tom do filme: a urgência e a crueza das ruas e os cortes rápidos. Não à toa, Daniel Lopatin foi sagrado Melhor Compositor em Cannes, onde o filme foi também indicado à Palma de Ouro. Os irmãos Safdie conseguiram fazer uma espécie de Depois de Horas (After Hours, 1985) do crime. Nada mais justificado que agradecer ao mestre Martin Scorsese nos créditos. E ele ainda produzirá o próximo trabalho da dupla.