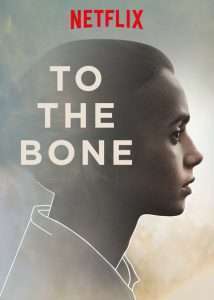por Rodrigo “Piolho” Monteiro
Publicado pela primeira vez em 1980, na coletânea Dark Forces, e republicado cinco anos depois em Tripulação de Esqueletos, O Nevoeiro, de Stephen King, é um estudo psicológico sobre o que acontece quando pessoas muito diferentes entre si são forçadas a conviver em isolamento e no que farão em sua tentativa de sobreviver a uma ameaça que lhes foge à compreensão. No caso, ela se trata de um misterioso nevoeiro que cobre a cidade de Bridgton, no Maine, e quem se aventura nele jamais volta, já que ele traz predadores que se parecem com insetos distorcidamente gigantes e famintos. Um grupo de habitantes se tranca em um supermercado e tenta sobreviver até que o nevoeiro se dissipe ou alguém venha em seu resgate. Claro que isso se torna muito difícil quando os membros desse grupo começam a brigar entre si e algumas bizarrices se desenrolam, como é comum na obra de King.
 Em 2007, The Mist chegou ao cinema pelas mãos de Frank Darabont, talvez o diretor que melhor tenha adaptado Stephen King no cinema (são dele também Um Sonho de Liberdade e À Espera de um Milagre). Estrelado por Thomas Jane, o filme é bem fiel ao conto de King e apresentou um final muito superior ao conto. Infelizmente, é daqueles filmes que não obteve muito sucesso de público. Agora, é uma série e chegou à Netflix, depois de ter sua primeira temporada exibida pelo canal americano Spike. Apesar de dividir o mesmo título do conto e de se aproveitar de algumas de suas ideias, essa nova versão da história guarda muito poucas semelhanças com o texto de King.
Em 2007, The Mist chegou ao cinema pelas mãos de Frank Darabont, talvez o diretor que melhor tenha adaptado Stephen King no cinema (são dele também Um Sonho de Liberdade e À Espera de um Milagre). Estrelado por Thomas Jane, o filme é bem fiel ao conto de King e apresentou um final muito superior ao conto. Infelizmente, é daqueles filmes que não obteve muito sucesso de público. Agora, é uma série e chegou à Netflix, depois de ter sua primeira temporada exibida pelo canal americano Spike. Apesar de dividir o mesmo título do conto e de se aproveitar de algumas de suas ideias, essa nova versão da história guarda muito poucas semelhanças com o texto de King.
A série O Nevoeiro começa com Bryan Hunt (Okezie Morro, de Guerra Mundial Z, 2013) acordando no meio de uma floresta. Bryan está sofrendo de amnésia e, bem rapidamente, vê um grande nevoeiro se aproximando. Ele, então, corre em direção à cidadezinha de Bridgeville. Ela, no entanto, logo será envolta pelo nevoeiro e Bryan se verá preso ali.
Antes disso, no entanto, somos apresentados aos protagonistas da série. Kevin (Morgan Spector, de A Entrega, 2014) é um escritor que vive na cidade com sua esposa Eve (Alyssa Sutherland, de Vikings) e a filha Alex (Gus Birney), uma adolescente cujo melhor amigo é Adrian (Russel Posner), o típico adolescente moderno cuja sexualidade não-definida o torna um pária na escola onde frequenta. Alex tem uma queda por Jay (Luke Cosgrove), filho do xerife Connor (Darren Pettie), que representa tudo o que Adrian mais odeia, já que, aparentemente, é apenas mais um valentão pertencente ao time de futebol da escola. Para sua infelicidade, a atração de Alex por ele é recíproca e isso trará grandes consequências para a vida da menina.
Temos ainda a presença de Mia (Danica Curcic), uma criminosa de passado misterioso e, fechando o elenco principal, o casal formado por Ben (Derek McGrath, da nova versão de Carrie, A Estranha, 2013) e Nathalie (a veterana Frances Conroy, de séries como How I Met Your Mother e American Horror Story). Nathalie é daquelas senhoras que parecem que ainda vivem na década de 1960 e acredita ter uma ligação muito forte com a “Mãe Natureza”. Isso faz com que ela se torne uma personagem importante nessa primeira temporada da série, na medida em que acredita que o nevoeiro é uma forma da natureza punir os habitantes daquela cidade por seus pecados.
Inicialmente, as pessoas de Bridgeville pensam que aquele é um nevoeiro normal, como todos os outros. No entanto, à medida em que quem entra nele não volta e morre de formas horríveis, o pânico toma conta da cidade e as pessoas acabam isoladas em diversos locais: uma igreja, um hospital, um shopping. A partir daí, é uma corrida pela sobrevivência. Para Kevin, há ainda a questão de tentar atravessar a cidade para se reunir à sua família sem ser morto pelo que quer que se esconda no nevoeiro.
Apesar de guardar algumas semelhanças com o conto original, essa nova versão de o Nevoeiro se encaixa naquelas produções que se baseiam apenas levemente na história que lhe deu origem. Nenhum dos personagens aqui apresentados está no conto e, consequentemente, suas personalidades e histórias de vida são todas originais. Há uma tentativa aqui e ali de relacioná-las aos originais – Nathalie por muitas vezes lembra a fanática religiosa Sra. Carmody (vivida por Marcia Gay Harden na versão de 2007), ainda que a origem do fanatismo de Nathalie seja bem outra – e a causa do nevoeiro parece ser a mesma do conto, mas isso não fica claro ao longo da série.
A própria natureza do nevoeiro aqui difere daquela apresentada no conto e no filme de 2007. Enquanto nos dois primeiros as ameaças são de origem extradimensional, aqui elas assumem um caráter mais sobrenatural, ainda que isso não fique exatamente claro. Isso pode se dar também, suponho, pelo fato da Spike ter um orçamento bem limitado para seus efeitos especiais que, em muitos momentos, se mostram bem fracos, quase no nível do que se vê nas produções do Syfy ou nas novelas da Globo. Nada que comprometa a qualidade geral da série, mas chega a incomodar em alguns momentos.
Apesar disso, a série tem seus bons momentos e os efeitos do isolamento – especialmente no shopping – sobre a mente dos ali isolados são razoavelmente bem conduzidos. Há, ainda, algumas viradas de roteiro interessantes, que compensam o fato de alguns personagens parecerem unidimensionais e estereotipados. A primeira temporada de O Nevoeiro foi disponibilizada no Netflix na última sexta-feira, dia 25 de agosto. Rumores sobre uma segunda temporada já começaram, mas, até o momento, nada foi anunciado.