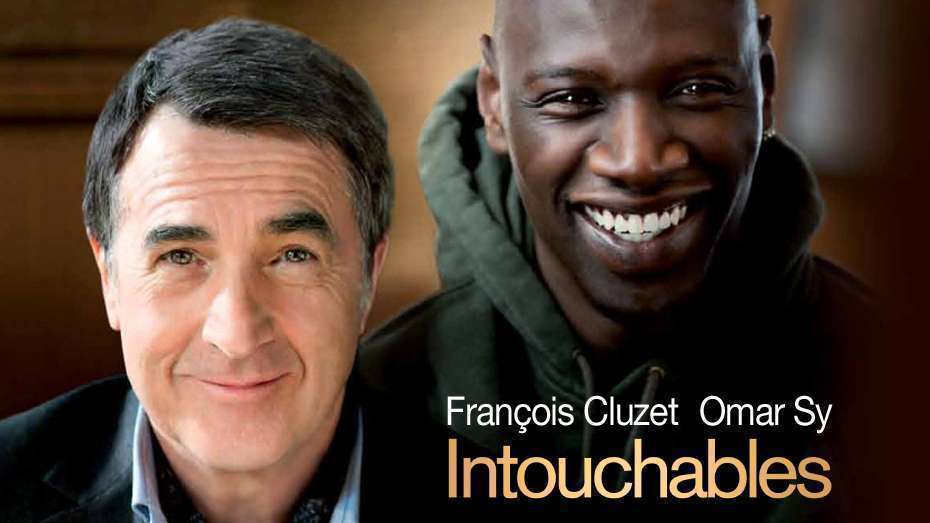por Rodrigo “Piolho” Monteiro
Segundo o horóscopo chinês, 2012 é o ano do Dragão da Água. Para os fãs dos quadrinhos, no entanto, esse pode ser muito bem o ano do morcego. Afinal, até o momento, Batman foi a estrela de três longa metragens, ainda que dois deles sejam animações lançadas diretamente em DVD. Baseada na minissérie homônima criada por Frank Miller, Klaus Janson e Lynn Varley, Batman: O Cavaleiro das Trevas Parte 1 (Batman: The Dark Knight Returns Part 1, 2012) é o último desses lançamentos. Chegando diretamente ao mercado de homevideo, a animação atende aos desejos de boa parte dos fãs do personagem que, desde 1989, ano do primeiro filme de Batman – aquele dirigido por Tim Burton – esperam ver a obra-prima de Miller transposta para as telas.
O Cavaleiro das Trevas, ainda que não faça parte da cronologia de Batman, é uma das mais importantes histórias do personagem (se não A mais importante). Ela mostra Gotham City 20 anos no futuro, metade dos quais sem um Batman para defendê-la. Depois da morte de Jason Todd (o segundo Robin), o Homem Morcego decide se aposentar. No décimo aniversário da data, o comissário James Gordon também está às portas da aposentadoria. Harvey Dent, o Duas Caras, passa por uma cirurgia reconstrutora e, após anos de terapia intensiva, está “reabilitado”. Já o Coringa, responsável pela morte de Todd, está internado no Asilo Arkham, catatônico. No meio disso tudo, temos Bruce Wayne, um homem assombrado pelo seu passado e uma voz interna que urge que ele volte à ação. Afinal, apesar de estar livre de seus maiores algozes, Gotham está mergulhada no crime, graças à ascensão da gangue conhecida como “Os Mutantes” e seu líder, conhecido, adequadamente, como “Líder Mutante”. Logo, a voz vence e Batman volta à ativa. Dizer mais do que isso seria estragar a diversão.
Batman: O Cavaleiro das Trevas Parte 1 transpõe para a telinha a primeira e a segunda edições da minissérie. Como toda adaptação, ela tem pontos positivos e negativos. A parte negativa fica justamente pelo fato de o conflito interno pelo qual passa Wayne ter sido bastante amenizado no desenho – em parte talvez pelo roteirista Bob Goodman e diretor Jay Oliva terem cortado a narração que, no gibi, mostra Wayne conversando internamente com Batman. Desperdiça-se, assim, um recurso que poderia também ter sido explorado em outros momentos. Isso pode ser justificado, por outro lado, pelo fato de a animação claramente tentar atender a um público mais jovem, que provavelmente não iria se empolgar caso o filme adquirisse esse tipo de clima. Claro, há também a questão de que muitas das nuances presentes na obra de Miller dificilmente poderiam ser comprimidas nos pouco mais de 70 minutos da animação.
 Por outro lado, um dos maiores medos que os fãs da série de Miller era de que a violência presente nos quadrinhos fosse amenizada ou mesmo deixada totalmente de lado na animação justamente para que ela se adequasse a uma audiência mais jovem. Dessa vez, no entanto, os produtores optaram pela fidelidade e mantiveram o que acontece no gibi. A luta de Batman com o Líder Mutante sozinha é mais empolgante do que todas as sequências de luta presentes na trilogia de Chris Nolan. Uma comparação deveras injusta, eu sei.
Por outro lado, um dos maiores medos que os fãs da série de Miller era de que a violência presente nos quadrinhos fosse amenizada ou mesmo deixada totalmente de lado na animação justamente para que ela se adequasse a uma audiência mais jovem. Dessa vez, no entanto, os produtores optaram pela fidelidade e mantiveram o que acontece no gibi. A luta de Batman com o Líder Mutante sozinha é mais empolgante do que todas as sequências de luta presentes na trilogia de Chris Nolan. Uma comparação deveras injusta, eu sei.
No fim das contas, esta Parte 1 é uma transposição extremamente bem sucedida e consegue equilibrar a necessidade de ser fiel ao original com a de atender a uma audiência mais diversa – ou seja, aquelas pessoas que sequer sabem que se trata de uma adaptação de uma obra específica – de maneira bastante satisfatória. A exemplo de Batman: Ano Um (Batman: Year One, 2011), ela é daquelas obras que tem tudo para agradar tanto aos fãs dos quadrinhos quanto àqueles admiradores ocasionais. Só esperamos que a segunda parte faça jus às expectativas.