A televisão foi maior do que nunca em 2014
por Rodrigo Seabra
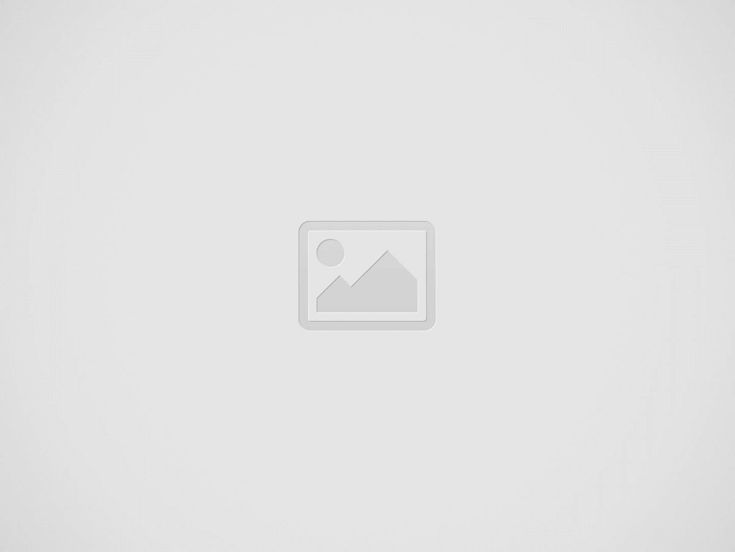

Dezembro chegou, o Natal se aproxima e mais uma vez temos a oportunidade de passar em revista o ano que se encerra em termos das séries de TV norte-americanas, que nos brindam há pouco mais de uma década com uma era de ouro. Convém lembrar mais uma vez: o que se segue deve ser visto como uma retrospectiva escrita com base nas muitas listas de “melhores do ano” publicadas nos últimos dias pelos bons sites especializados lá de fora. Um quê de crítica própria existe em cada parágrafo, mas a referência vem das listas, do noticiário acompanhado o ano inteiro e, claro, da audiência em algum momento de quase todas as séries mencionadas.
As listas, aliás, costumavam se contar em números redondos, como o Top 10 do David Letterman. Só que, considerando a quantidade de programas excelentes nos últimos anos, o pessoal tem se empolgado em rankings cada vez mais longos. Há uma tendência também de misturar dramas, comédias, programas de esquetes e não ficcionais e até o ocasional reality show ou competição. Por isso, não tem como esta retrospectiva ficar pequena. Mas prometemos diversificação.
Primeiro, as tendências gerais do ano. Houve uma verdadeira enxurrada de produções e anúncios envolvendo adaptações de conceitos já existentes. Versões televisivas de filmes, por exemplo, tomaram o noticiário de tal forma que listar tudo tomaria um longo parágrafo – o site especializado Slashfilm contabiliza mais de 30 dessas adaptações atualmente em desenvolvimento, sem contar aquelas que já estão no ar, os remakes saídos da própria TV e as derivadas de séries preexistentes. Algumas das ideias, aliás, são simplesmente terríveis. É um sinal bem claro de que conceitos originais na televisão (como no Cinema) estão em queda livre e serão exceção em 2015. Vimos também uma pequena explosão de comédias românticas novas junto a algumas que já vinham bobinhas e previsíveis como de costume. Há até planos de uma sitcom assim baseada em Peter Pan. Aliás, a onda dos contos de fadas e vampiros finalmente deu um tempo (será?) e cedeu lugar às adaptações quadrinísticas que já vinham aumentando na TV e tomaram de assalto o Cinema nos últimos anos. Mas aguarde uma certa modinha envolvendo bruxas que vem esquentando em fogo baixo. E os reis de 2014 na TV foram os produtores e criadores Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal, How To Get Away With Murder) e Ryan Murphy (Glee, American Horror Story, The Normal Heart), que expandiram seu reinado como poucas vezes se viu na TV, e a HBO, canal campeão absoluto nos últimos tempos, com suas estreias e continuações incríveis, executadas com competência inquestionável e seguida cada vez de mais perto por AMC, Showtime e FX.
Para a TV aberta americana, o ano trouxe mais uma temporada ruim de estreias no outono (setembro e outubro), em contraposição à excelência e superioridade cada vez mais óbvias da TV a cabo. Felizmente, continuam existindo exceções dos dois lados, mas o que se viu no começo de 2014 foi um verdadeiro banho de “sangue”. Só nas cinco principais redes abertas, foram 23 cancelamentos de séries que vinham da temporada de outono anterior. Alguns colunistas inclusive indicam que nunca antes tinham acontecido tantos cancelamentos de séries novas. Aliás, a temporada de 2013 já tinha sido um tanto desastrosa no campo das comédias. Da lista que fizemos no fim do ano passado, falando das muitas péssimas estreantes e veteranas de então, apenas Mom e Two Broke Girls se salvaram e continuam sendo lamentáveis. Janeiro tentou se redimir, trazendo algumas novidades muito mais interessantes, mas elas acabaram canceladas também. As excelentes Enlisted e Surviving Jack foram talvez as duas maiores perdas daquele começo de ano entre as comédias, levando junto a promissora Trophy Wife que vinha de antes. Considerando as carreiras curtas das três, vale muito a pena assisti-las nesta época de férias – aliás, preste atenção na espetacular trilha sonora de Surviving Jack e na ordem correta de Enlisted, bem diferente do desastre que foi sua exibição pela Fox.
Possivelmente, a grande estreia do ano em comédias foi Silicon Valley na HBO. Nerd até a medula, escrachada como só a TV a cabo permite e fechando com uma das piadas mais sujas de que se tem notícia na TV, a primeira temporada da primeira série em live action de Mike Judge (Beavis and Butt-head, Office Space, King of the Hill) conquistou crítica e público. Na TV aberta, o mais próximo que se pode reconhecer de um sucesso é a estreante black-ish, com resenhas simpáticas e boa audiência, ainda que nada próxima à dos arrasa-quarteirões The Big Bang Theory (mantendo-se relevante em plena oitava temporada, apesar do apelo cada vez mais diluído) e Modern Family (mais apagada do que nunca, apesar dos bons números, e esnobada até pelos Golden Globes que sempre a adoraram). Selfie, com seu título terrível e uma equivocada campanha de divulgação, foi corretamente considerada o cancelamento mais precipitado do ano da temporada de estreias. De fato, quem conseguiu passar por cima do preconceito justificado ao nome e assistiu ao piloto viu que a série tinha muita promessa, a qual foi se revelando rapidamente pelos três ou quatro ótimos episódios seguintes. A audiência, no entanto, foi muito pouca e a série se viu condenada ainda cedo. Os episódios finais, que foram produzidos mesmo assim, estão sendo exibidos no serviço on demand Hulu até o fim do ano. Não é nada transformador, mas a dica é: se você gosta de comédias simpáticas, vale, sim, dar uma conferida, ao contrário das tristes A to Z e Manhattan Love Story.
Nas listas de fim de ano, pelo menos duas séries novas do canal Comedy Central pegaram muitos espectadores e mesmo críticos de surpresa. Review traz o veterano das comédias Andy Daly como Forest MacNeil, um sujeito que tem um programa de TV no qual se apresenta como “crítico da vida”, ou seja, alguém que avalia diversas experiências em tudo o tempo inteiro. O problema é que MacNeil pula de cabeça em suas pesquisas perigosas, como vício em drogas, orgias e apetite compulsivo, sem medir consequências e vai destruindo sua própria vida no processo. Não tive ainda oportunidade de assistir, mas essa adaptação de um programa australiano ainda mais casca grossa foi saudada em diversos lugares como hilária, trágica e, sem exagero, a melhor série de 2014 de que ninguém esperava grande coisa. A segunda foi Broad City, que também não vi ainda. Pouco badalada durante sua estada no ar (e já renovada para outra temporada), a série apareceu com destaque de coisa grande entre as melhores do ano de algumas pessoas e não sei explicar o porquê. A comédia é baseada em uma coleção de curtas para web e traz as atrizes Ilana Glazer e Abbi Jacobson como amigas de vinte e poucos anos, apreciadoras de um fumo, vivendo desventuras descritas como “surpreendentes” e “brilhantes” em Nova York, com uma pegada feminista, mas sem se levar a sério. Vamos dar uma olhada assim que possível.
Outras comédias notáveis merecem consideração. Por exemplo, muito festejada durante o ano foi Inside Amy Schumer, que não é uma sitcom ficcional com as outras vistas aqui, mas sim um programa de esquetes cômicas muito bem escritas e bem interpretadas pela ótima atriz principal e um grupo de coadjuvantes disposto a fazer a gente rir de qualquer coisa. Enquanto isso, parece que New Girl conseguiu se restabelecer depois de uma terceira temporada que afastou muita gente. Community se despediu da TV com uma quinta temporada digna das primeiras, mais uma vez a cargo de seu criador pródigo, Dan Harmon, e terá continuação em 2015 no serviço online Yahoo! Screen. You’re The Worst ganhou menções ocasionais e até apareceu em uma lista de respeito, com sua deturpação das comédias românticas de que falávamos antes. Parks and Recreation, outrora uma admirada peça de resistência do quase extinto lado cômico da NBC, foi menos falada em 2014 e vai recebendo seus últimos confetes agora em janeiro. Aliás, a tenebrosa Two And a Half Men também se prepara para o fim iminente com uma participação especial de Charlie Sheen (acho que o inferno vai gelar…) e uma sensação geral de “já vai tarde”. Brooklyn Nine-Nine veio de um sucesso desmedido na primeira temporada para uma recepção bem mais morna, porém mais compatível com a série, neste segundo ano. Depois de um ano de férias, Louie retornou mais experimental e tão engraçada como sempre, mas chamou bem menos atenção dessa vez. Rick and Morty, que noticiamos com destaque, foi a grande revelação entre as animações adultas, com toda a sua anarquia e subversão, deixando só um lugarzinho para BoJack Horseman no Netflix e os retornos de Archer (em temporada considerada abaixo da média) e Bob’s Burgers (em temporada considerada acima da média). E Veep continuou sendo uma ótima série chata, com humor político chato e mais uma grande atuação de Julia Louis-Dreyfus num papel chato.
Para abrir o assunto dos dramas no ano de 2014, só se pode começar falando de True Detective. A série figurou em quase todas as listas de melhores, mas, com justiça, em posições bem abaixo das esperadas. Falamos dela ainda lá no começo. Muita gente deu de cara no muro por acreditar, sabe-se lá por quê, que suas referências costuradas significavam alguma coisa que ia além do mostrado em cena – e não ia. Quatro excelentes episódios foram seguidos por outros quatro que ficavam entre o apenas correto e o ruim, e então aquela meia-dúzia de citações não passou de uma intertextualidade das mais simples, envolvendo literatura de terror e filosofia de botequim. Uma série competente, sim, mas bem menos excepcional do que muitos proclamaram, transitou entre um gigantesco fenômeno online (ainda mais para a legião de trouxas que acreditavam em insuportáveis “teorias” disso e daquilo) e apenas uma boa história policial contada pela mestra HBO, com um desenvolvimento de personagens bacana e uma indesejada lição de moral em um final anticlimático e até chocho, mas coerente. Foi importante, primeiro, por ter se entranhado no imaginário dos espectadores com situações e frases de efeito. A primeira temporada será por muito tempo lembrada não apenas pela promessa não cumprida, mas também por “Time is a flat circle”, pela melhor cena de topless desnecessário do ano e pela espetacular tomada contínua de seis minutos com a fuga pelo meio das casas. Além disso, a série veio criar um modelo de antologia de alto gabarito para a HBO, na qual atores consagrados poderão pôr o pé nas águas televisivas por uns poucos episódios sem medo de se comprometer por anos a fio. O criador Nic Pizzolatto soube reunir grandes atuações – Matthew McConaughey, em particular, mereceu cada elogio recebido, e sua química de longa data com um ótimo Woody Harrelson foi talvez o maior trunfo da temporada inteira – e ainda direção, roteiro, ambientação, fotografia e demais aspectos técnicos, mas ainda não se mostrou o gênio que muitos pintaram. Que venha a aguardada segunda temporada, com a escalação já anunciada de Colin Farrell, Rachel McAdams, Kelly Reilly, Taylor Kitsch, um temeroso Vince Vaughn e até Rick Springfield.
Adorada em seus primeiros anos e saudada como uma das maiores representantes da atual era de ouro da TV norte-americana, Mad Men viu uma sexta temporada injustamente criticada em 2013, talvez por lidar com a derrocada do personagem principal e sua nova esposa Megan, personagem que parece ter sido rejeitada pela maioria dos fãs. Com isso, a série infelizmente saiu do mapa de muita gente no ano passado. Some-se a esse desencanto a desastrosa decisão do canal AMC de dividir a atual sétima temporada em duas partes com um ano de intervalo (e não seriam, então, duas temporadas?) e deixar uma mísera segunda metade agendada apenas para 2015. Se a série já não vinha de bons resultados no ano anterior, por que então exibir somente meia temporada e quebrar a única tentativa de restabelecer algum prestígio? Conforme apontado pela imprensa em uníssono, foi certamente uma das maiores bolas-fora do ano. Agora em 2014, no entanto, a série reapareceu firme e gloriosa em todas as listas de melhores e não foi à toa. Jon Hamm, Elisabeth Moss, John Slattery e o criador Matthew Weiner continuam como líderes na história que se propuseram a contar. Essa primeira metade mostrou o fim dos anos 1960, continuando a desilusão e a perda por que vinham passando os personagens. Don Draper finalmente se dá conta de sua própria falência profissional e pessoal e não sabe como colocar a vida nos eixos; Roger precisa ir atrás da filha e procurar a felicidade em outros lugares que não o dinheiro; Peggy, aos 30 anos, tenta encontrar maturidade e segurança ao se descobrir seguindo os passos de seu mentor Don; Sally continua revelando a juventude que virá enterrar uma cultura antiquada; Bert Cooper, os demais sócios e a própria agência de publicidade passam por profundas transformações. A série caminha para um final bastante digno no panteão ao qual justamente pertence.
Apesar do fartamente noticiado, Fargo não é uma adaptação do filme homônimo dos irmãos Coen, só tomando emprestados a ambientação e o clima, mas nada da mesma história. Os elogios em profusão começaram ainda no piloto. Não era por acaso: aquele primeiro episódio é nada menos que um primor, a hora de televisão mais bem sucedida do ano em pegar o espectador pelo pé e não deixá-lo fugir. Felizmente, a série soube continuar nesse veio, e a admiração geral só fez crescer. A história se ramifica, se complica e conecta um monte de gente, mas logo volta a clarear, revelando mais uma obra-prima da era de ouro da TV, agora a cargo do FX. Como se não bastasse a trama extremamente bem amarrada, temos ainda atuações irrepreensíveis dos protagonistas – a quase desconhecida Alison Tolman demonstrando uma força impressionante, os sempre interessantes Martin Freeman (Sherlock, O Hobbit) e Billy Bob Thornton (de O Juiz) e o usualmente apagado Colin Hanks (Dexter) – e da maioria dos secundários (chamar a dupla de Key & Peele para fazer os investigadores do FBI foi uma piada interna genial), já que todos recebem grandes diálogos e situações. Não há dúvida de por quê Fargo entrou em todas as listas de melhores séries do ano – ainda que esteja sendo tratada como minissérie, já que a primeira temporada foi fechada em seus dez episódios. A segunda temporada vem aí em 2015, já contando com Kirsten Dunst (Homem-Aranha, Melancolia) e Jesse Plemons (Breaking Bad, Friday Night Lights) em papéis centrais e a promessa de um jovem Lou Solverson (o dono da lanchonete e pai da protagonista da primeira temporada) resolvendo um crime no fim da década de 1970.
Poucas vezes se viu a imprensa especializada em séries reagir de maneira tão unanimemente indignada quanto no meio do ano que se encerra, quando The Good Wife foi preterida nos Emmys na categoria de melhor série. Todas as publicações importantes trouxeram artigos e comentários contundentes condenando a premiação. As listas publicadas no fim do ano só vieram corroborar que ela tinha mesmo de figurar entre as melhores de 2014. Para quem teve a felicidade de acompanhá-la, a série apresentou nada menos que uma temporada exemplar de televisão como há muito não se via. As quatro temporadas anteriores sempre estiveram entre as grandes atrações de seus respectivos anos, mas poucas séries podem dizer que trouxeram sua melhor leva de episódios em pleno quinto ano de existência, entre o fim de 2013 e maio de 2014. Nesse meio-tempo, até mesmo o foco da série se deslocou de maneira tão natural que isso não representou um fim ou um problema, mas sim a trama mais interessante já desenvolvida pelos criadores Robert e Michelle King. Em setembro, a sexta temporada começou mantendo o nível como se apenas uma semana tivesse se passado nos meses de hiato. É esse o gabarito da série a que você provavelmente não está assistindo por conta de algum preconceito infundado. Apesar do nome, não se trata da vida sofrida de uma dona de casa. Não há novela, não há dramalhão, não há romances açucarados nem truques improváveis. O que vemos é uma combinação perfeita de casos da semana com um lado serializado fortíssimo, beneficiado naquele quinto ano com reviravoltas pertinentes e construídas com graça e paciência. Relacionamentos interpessoais complicados, mudanças sempre muito bem justificadas para melhor e para pior, boas pessoas atravancando a vida enquanto pessoas ruins facilitam as coisas, mutretas políticas, éticas e legais conduzidas com criatividade pelos roteiristas, a árdua separação entre mundo profissional e pessoal, o público e o privado – tudo isso acontece em meio aos temas mais atuais da esfera jurídica e a personagens em constante desenvolvimento, mesmo os secundários. Não foi perseguição, portanto, que levou os críticos a apontarem a grosseira omissão dos Emmys. O consenso atual é o de que The Good Wife e Hannibal são as duas séries no ar na TV aberta americana que mais valem a pena ser vistas, nada devendo à excelência dos seriados da TV a cabo.
Por falar nela, a injustiçada Hannibal, aclamada pela crítica, mas com audiência mínima, também esteve presente em muitas listas. Os episódios finais da segunda temporada são provavelmente a coisa mais brutal que já presenciei na televisão, o que é especialmente chocante se considerarmos que, nos EUA, a série passa em um canal aberto. A temporada em si, construída como uma pintura aterradora, tem momentos de tensão e impacto altíssimos e outros em que é fácil ficar perdido. Por causa de uma certa movimentação na segunda metade da temporada, grande parte da trama muda sem aviso mais para o final. Fica parecendo que seriam necessários mais um ou dois episódios para fazer a coisa fluir melhor, mas é fato que tudo acaba se resolvendo da maneira mais correta e… eu já falei em brutal, certo? O episódio final é do tipo que deixa a gente se perguntando por dias o que é aquilo a que acabou de assistir. Hannibal Lecter, imortalizado como um dos maiores vilões da história do Cinema por Anthony Hopkins, é também o papel de uma vida nas mãos de um ator do calibre de Mads Mikkelsen, outro ignorado pelas injustas premiações. A junção de seu talento assombroso com a complexidade do personagem rendem um trabalho para deixar qualquer fã de qualquer meio audiovisual fascinado.
Parece que a ótima primeira temporada de The Americans, por melhor que tenha sido, não tinha ainda mostrado todo o potencial da série, sempre muito bem lembrada, mas apenas beliscando as posições mais baixas nas listas do ano passado. Este ano, a segunda temporada veio com uma história central mais bem delineada, muitas subtramas interligadas e tão essenciais quanto, e mais desenvolvimento decisivo do casal principal (Keri Russell e Matthew Rhys, perfeitos em seus papéis de agentes da KGB) e de seu difícil casamento de fachada, envolvendo filhos que não sabem de nada, um vizinho membro do FBI (o ótimo Noah Emmerich, ainda mais exigido este ano) e empregos comuns em uma agência de turismo. Acabou indo parar em todas as listas de melhores de 2014. Se a série tem um defeito, é o de um ocasional excesso de lógica e hermetismo nos diálogos (em inglês e em russo), o que faz com que seja árida e até bem complicada lá pelo meio da temporada, mas por isso mesmo com uma resolução construída com muito cuidado e bastante satisfatória. As recomendações feitas no ano passado, mais discretas, agora podem ser mais declaradas. Para quem não conhece, a série é uma trama de espionagem passada durante a Guerra Fria, no começo dos anos 1980, com ótimas cenas de ação e de suspense, contra-inteligência e agentes duplos que confundem todo mundo, assassinatos na surdina, disfarces de todos os tipos e as agruras de se levar a vida como espião em território inimigo. A terceira temporada começa em breve, no fim de janeiro.
The Leftovers não é necessariamente a melhor série americana no ar hoje, mas com certeza é a mais importante em termos do impacto singular que causa. Muita bobagem foi dita a respeito, mas poucas vezes vi um programa se aproximar tanto de um literal soco no estômago, levantando perguntas pertinentes não só à sua própria trama, mas à vida como um todo, e discutindo ideias que nenhum outro programa aborda. Difícil, beirando o incompreensível no primeiro momento, a série não é do tipo que se preocupa em dar explicações, como declarou o próprio cocriador Damon Lindelof, mas se mostra generosa com quem se habilita a continuar depois do piloto avassalador. Tudo começa em um dia 14 de outubro, quando 2% da população mundial – mais de 140 milhões de pessoas – simplesmente desaparece. Exatamente como aconteceria no nosso mundo, no qual ficaríamos de mãos atadas e teríamos de apenas aceitar o ocorrido e tocar adiante, a trama não está nem um pouco preocupada em elucidar esse mistério – que é, ao mesmo tempo, uma evidência forte da existência do sobrenatural e a maior fonte de dúvidas existenciais imaginável. Em muitos aspectos, a esperança morreu naquele momento, e quem ficou pra trás tem de se dar conta disso todos os dias. O foco recai nessas pessoas e em como o planeta foi profundamente afetado não só pelas perdas individuais, mas pelo luto coletivo e pelo niilismo que se instalam. Entra aí a explicação para o nome: “leftovers” é algo como “sobras”, uma expressão intencionalmente desumana, que não deve ser confundida com “remanescentes” e que se identifica mais com o uso dado em inglês para restos de comida, por exemplo. Essa é a primeira das muitas metáforas que nos levam a apreciar a luta do policial Kevin Garvey (Justin Theroux) para se manter são depois de algo tão devastador. Personagens complexos e um tanto perturbados (vividos por Amy Brenneman, Christopher Eccleston, Liv Tyler, Chris Zylka, Margaret Qualley e a excepcional Carrie Coon) vão aos poucos nos deixando ver suas motivações, sem jamais se definir entre bons e maus. Naquele mundo, as implicações do 14 de outubro vêm de todos os lados possíveis – são religiosas, familiares, econômicas, íntimas, políticas; no nosso, vão ensejar interpretações e mais perguntas a respeito do que está acontecendo com aquelas pessoas envoltas em muitos mistérios “menores” a serem explorados. A série da HBO, tão cheia de camadas, tocante e relevante, e muito bem sucedida em transmitir ao espectador o estranhamento e o desespero dos habitantes da fictícia Mapleton, estado de Nova York, terá uma segunda temporada totalmente inédita, depois de uma primeira baseada em livro de Tom Perrotta. A experiência de The Leftovers definitivamente não é para todo mundo, mas não deixe de tentar ver.
Outros dramas de primeira linha beliscaram as eleições de fim de ano. Por exemplo, os críticos finalmente conseguiram enxergar The Walking Dead como uma das boas coisas da televisão atual, depois de anos denunciando os diálogos ruins, a mira laser de todos os personagens e as contenções de gastos às vezes óbvias demais aqui e ali. Em 2014, a série, que já era ótima e agraciada com uma das maiores audiências da TV a cabo americana, se alternou com muita felicidade entre a ação de costume e o desenvolvimento de personagens principais e secundários. Mais para o fim de 2015, teremos uma derivada da série passada em Los Angeles. Também Game of Thrones, até que enfim, teve uma temporada que pôde ser chamada de excelente como um todo, apesar de cometer a heresia de trazer um episódio sem Arya, Tyrion e a Khaleesi. A embromação involuntária que assolava metade das temporadas anteriores finalmente deu lugar a dez episódios que tiveram, todos ou quase todos, acontecimentos interessantes de verdade pra mostrar, fugindo daquela “estratégia” de concentrar momentos marcantes apenas nos dez minutos finais, enquanto o resto do elenco andava e conversava. A quarta temporada foi, sem dúvida, a mais intensa até o momento.
The Knick é a vitoriosa incursão do celebrado diretor Steven Soderbergh na TV, o que se torna claro com os enquadramentos e ângulos interessantíssimos da série. A trama aborda a crueza da medicina do começo do século XX, tendo como ponto central o médico John Thackery, em atuação brilhante do irregular Clive Owen. No meio da carnificina, os cirurgiões têm de lidar com o preconceito ao recém chegado médico negro, a decadência da região onde fica o hospital, a concorrência que já imperava e a invenção desesperada de novos instrumentos e procedimentos – tudo enquanto Thackery se vicia em cocaína, o anestésico daqueles tempos. O resultado merece demais ser visto. Por sua vez, Penny Dreadful estreou sem chamar muita atenção. Reunindo personagens literários diversos em um mesmo universo de visual estonteante (a cargo do cineasta Sam Mendes), a série não é daquele tipo lenta e reflexiva, mas começou fraca porque demandou muito tempo explorando aspectos e referências que significariam pouco para o quadro geral, deixando a história principal diluída em meio a tantas ramificações. Afinal, em pleno 2014 repleto de vampiros, como deixar uma “grande revelação” que não é revelação nenhuma para o episódio seis, quando a temporada tem apenas oito? À medida que avança, entretanto, a trama cheia de ação e horror se paga muito bem. Tem conclusão, tem amarras das várias subtramas ao longo da temporada e tem ganchos interessantes para a temporada seguinte. Se Josh Hartnett continua atuando tão bem quanto um porta-copos, Eva Green arrasa pelos dois, com atenção especial ao aterrador sétimo episódio.
A avalanche de grandes séries não parou por aí. Durante o ano, falou-se muito ainda de Boardwalk Empire (que chegou ao seu final em um ponto alto, ainda que distante dos elogios do começo), The Affair (uma estreia adulta, bastante sólida, que chega com ótimo elenco e muito bem recomendada pelos veículos especializados), Outlander (coprodução anglo-americana que deixou muita gente embasbacada pela beleza plástica e originalidade), Happy Valley (provavelmente a melhor série britânica do ano, que fala sobre uma policial investigando o suicídio da filha e um sequestro relacionado), Jane The Virgin (nem sempre mencionada em listas de melhores, mas muito festejada desde sua estreia em outubro, com grande destaque para a atuação da protagonista Gina Rodriguez, surpreendentemente lembrada pelos Globes), Homeland (que retornou em uma quarta temporada espetacular como as duas primeiras, depois de derrapar na terceira), Masters of Sex (mantendo o mesmo tom sóbrio da primeira temporada em um assunto espinhoso, mas agora tida como menos interessante), Orphan Black (uma espécie de “sucesso secreto” da TV canadense, sempre ovacionada na imprensa pelo trabalho primoroso da atriz Tatiana Maslany) e Rectify (ainda lenta, poética e anticomercial, ainda muito bem contada, ainda pouco vista e pouco comentada, e somente elevada entre as melhores pelo apoio incondicional da crítica). As adaptações quadrinísticas Gotham e The Flash, cheias de problemas, só vieram comprovar que audiência (que é alta) não significa qualidade (que é baixa). O relançamento de 24, se não foi um grande momento do ano, parece ter sido pelo menos uma surpresa boa para muito crítico de respeito e para os fãs dos anos dourados da série. Sons of Anarchy não apareceu mais em listas, mas terminou sua trajetória agora no começo de dezembro ainda atraindo audiência bastante alta para um programa menos badalado e com um final considerado excelente por seus espectadores. E os fãs em geral continuam se perguntando onde está a representação de Person of Interest em listas de melhores, premiações e mesmo cobertura da imprensa especializada.
Mais uma vez, como vai ser regra por ainda muitos anos, as atenções dos críticos também se voltaram para a TV que não é feita na TV. Não apenas isso: Transparent, primeira série realmente boa da Amazon (sim, a livraria online também faz séries “de TV” e concorre com o Netflix), apareceu arrasando nos primeiros lugares de todas as listas do último mês e será uma presença forte nos Golden Globes agora em janeiro. Veja que não se trata apenas de uma boa escolha ocasional ou de um destaque específico on demand: críticos em quase unanimidade elegeram a dramédia como uma das maiores e melhores estreias do ano em qualquer meio, e em mais de um recanto respeitável ela foi tratada como “a série mais importante do ano”. Muito bem recepcionada desde o lançamento, Transparent fala de um pai de família (Jeffrey Tambor, de Arrested Development e The Larry Sanders Show, aqui mais elogiado do que em qualquer outro momento de sua longa e bem sucedida carreira) que, depois de décadas de casado e separado, e com três filhos adultos, resolve assumir de vez sua verdadeira personalidade transgênero (e daí o brilhante trocadilho no nome da série, que não quer dizer só “transparente”). A criadora Jill Soloway, roteirista em Six Feet Under e United States of Tara, diz que foi inspirada pela revelação de seu próprio pai. Na série, a transformação de Mort em Maura, com a maior naturalidade do mundo da parte dele/a, não é usada para fazer humor fácil, e sim para tratar, com tiradas sutis e afiadas, de sentimentos, conflitos familiares latentes, grandes temas aplicados a um universo particular, cultura, espiritualidade e religiosidade. Os filhos, que já vinham experimentando suas próprias dificuldades na vida, agora têm de absorver mais essa notícia, de modo que o foco nem sempre é a transformação do pai – que se revela o mais bem resolvido de todos – mas o impacto na estranha família e seu esquisito estilo de vida californiano.
Ainda na parte on demand, a segunda temporada de Orange Is The New Black, no Netflix, vinha sendo a grande indicação do ano (até Transparent chegar), com mais força ainda que a primeira leva e enorme destaque quando de seu lançamento. Os elogios se dirigiram principalmente para o elenco multiétnico, que pôde desenvolver seus personagens e revelar sua competência em nuances que não tinham sido ainda exploradas no ano passado. House of Cards, por sua vez, continuou quase tão bem recomendada quanto antes e ocasionalmente indicada a prêmios, mas a segunda temporada passou quase despercebida e ainda ganhou umas poucas farpas, especialmente com relação a excessos na trama. Continua, no entanto, sendo um produto bem superior à maioria do que se vê na televisão comum.
Fechando o assunto da TV, e só deixadas para o final por falta de opção, estão as excelentes minisséries Olive Kitteridge (acima), estrelando Frances McDormand, uma das melhores atrizes de nosso tempo, em um papel que ela própria qualifica como o mais complexo de sua carreira, e The Honourable Woman, com Maggie Gyllenhaal interpretando uma empresária empenhada em negociações de paz do Oriente Médio e envolvida em uma situação complicada de sequestro. Como recomendação 100% pessoal e à parte de eleições, posso indicar também a inglesa Cilla, retratando a ascensão da cantora Cilla Black em três episódios com uma reconstituição incrível dos anos 1960 e um trabalho extraordinário da atriz e cantora Sheridan Smith. Na parte não ficcional, as listas combinadas trouxeram como melhores de 2014 a maravilhosa Cosmos: A Spacetime Odyssey, uma continuação em 13 episódios da clássica série Cosmos: A Personal Voyage, de Carl Sagan, com uma exploração apaixonante de assuntos científicos como astrofísica, evolução e personagens não celebrados a quem devemos a ciência do século XXI; e a pequena revolução representada pela genial série de esquetes jornalísticos Last Week Tonight with John Oliver, que vem rodando forte nas redes sociais e inaugurou um novo jeito de fazer sátira, muito mais envolvente e aprofundado do que o politiquismo inteligente, porém chato, de Jon Stewart e Stephen Colbert.
Tudo isso à parte, não se pode deixar de mencionar ainda que uma das maiores estreias do ano em termos de séries não estava na TV, mas só em áudio. Já considerado o podcast mais popular de todos os tempos, Serial (em inglês, claro) chamou a atenção dos críticos e fãs de seriados convencionais e virou notícia nos principais sites especializados em entretenimento e cultura pop do mundo. A série semanal, que saiu de uma tangente do famoso jornalístico de rádio This American Life, trouxe um enredo real em sua primeira temporada, investigando em nove episódios o assassinato da adolescente coreana Hae Min Lee na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, crime pelo qual Adnan Syed, ex-namorado da garota, foi condenado há mais de 15 anos – e o mote da história é saber se justa ou injustamente. A reconstituição feita pela criadora, produtora e narradora Sarah Koenig é tão viciante quanto aquelas velhas novelas de rádio com atores que fizeram sucesso no Brasil há décadas. Intrigante e cheia de pontos obscuros a serem explorados, a trama tem personagens que se desdobram, montes de depoimentos reais, trilha sonora e reviravoltas como qualquer obra ficcional. Para quem sabe inglês bem e não quer perder os detalhes, há transcrições feitas por fãs no Reddit – até onde se sabe, ainda não traduzidas para o português. Serial foi renovada para uma segunda temporada com o financiamento dos fãs, e novos episódios vão ao ar no começo de 2015.
Este ano, as melhores foram tantas que achei melhor nem render o assunto das piores. Com tanto a celebrar, não vale a pena perder tempo com tranqueiras do tipo The Mysteries of Laura, Stalker , o remake despercebido de Rosemary’s Baby e uma cada vez mais terrível The Following. O espectador pode agora aproveitar o início do ano, geralmente mais calmo, para se atualizar nessa tonelada de grandes recomendações e começar 2015 do jeito certo, com ótima TV à disposição. Mas corra, porque, ao longo do ano, novas temporadas e outras estreias animadoras (Daredevil, Better Call Saul e Westworld nos aguardam!) prometem tomar nosso tempo. Boas séries e bom ano!
Recent Posts
Robbie Williams conta sua história peluda e crua
O cantor Robbie Williams narra sua história, sendo interpretado por Jonno Davies e um macaco…
Michael Keaton faz dose dupla de pais ausentes
Em um curto intervalo, Michael Keaton curiosamente estrelou dois longas sobre pais ausentes: Pacto de…
Conheça a carreira do talentoso Ripley no Cinema
Muita gente que viu a série Ripley não conhecia bem o personagem e O Pipoqueiro…
Oscar 2025 – Indicados e Previsões
Como acontece todos os anos, há mais de uma década, O Pipoqueiro traz os indicados…
Oscar 2025 – Um Completo Desconhecido
Outro indicado ao Oscar 2025, Um Completo Desconhecido apresenta um curto momento da vida de…
Oscar 2025 – O Brutalista
Com dez indicações ao Oscar 2025, O Brutalista é um dos destaques da temporada de…
View Comments
Bei, quanta coisa mesmo.
Sobre Person of Interest, eu acho que ela não dura, porque a fórmula encontrada ainda é fraca.
A idéia parece ser: garantir sobrevivência com episódios 'caso da semana' para no final da temporada fazer a história realmente andar. E quando anda é demais. Últimos episódios da temporada passada foram um espetáculo. Aliás.. estava reparando como o embrião da série parece ter nascido durante as filmagens em The Dark Knight. A vigilância, o senhor aquele que é o "dono" do Samaritan é do conselho das indústrias Wayne, etc.
Um assunto meio a parte, e que vou dar pitaco que poderia ser assunto interessante para debater em algum podcast papo de redação lá do CeC: Estava pensando se no futuro, com a qualificação da TV ainda maior, não pode haver um "novo" formato, de filmes média metragem, com tempo de um episódio de série, 42min.
Digo isso porque fico com impressão que muitos filmes parecem ter uma boa idéia, mas que poderia ter sido "resolvidos" em menos tempo. Que foram esticados para poder caber no "formato" filme. Sei que muito disso pode ser essa nova falta de paciência da minha geração, mas várias vezes tenho pensado em como o roteiro parece se perder para obedecer a forma.
Talvez isso aconteça quando algum projeto bom surgir numa HBO da vida, e algum marketeiro inteligente bolar um novo nome para o formato, para tirar a pecha de média metragem como filme menor, não na duração obviamente, mas que é algo com menos valor.
Talvez algo como "quick movie", "smart movie", "convenience movie". Qualquer coisa que fuja de "média metragem" e ainda dê um verniz de glamour para algo que sempre existiu.
Abraço e feliz 2015.
Ismael, a proposta é bastante interessante, sim. Me parece bem plausível pensar nisso acontecendo, um modelo híbrido de TV e cinema nomeado com uma "buzz word" expandindo e dando um próximo passo na definição de Cinema. Obrigado pelo comentário!